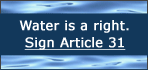«Negros, asiáticos, brancos, somos todos parte da mesma comunidade. Por que temos de nos matar uns aos outros? Se querem perder o vosso filho, força. Senão, acalmem-se e vão para casa»

sol.sapo.pt
No meio dos distúrbios de Birmingham um homem apressa-se a socorrer as vítimas de um atropelamento, para descobrir que uma das três pessoas atropeladas é nada mais nada menos que o seu próprio filho.
Tantas aulas que os professores dão, tantas aulas que ficam por dar!
Às vezes pergunto-me se são mais as aulas que dou, ou as que imagino dar. Adiante. Se vou por aqui, se vou por este fio de conversa, corro o risco de ter o personagem do Ricardo Araújo Pereira a dizer-me acutilantemente: “Ele fala, fala, fala, mas não diz nada!...”
Ora vamos lá então a ver se digo qualquer coisa de jeito, no fundo, pensando que adoraria abordar este assunto, exatamente a partir da forma como surgiu no Facebook, numa das minhas aulas de Psicologia. Numa sala de aula, a gente tem mais tempo, podemos juntar mais esta ou aquele cereja à conversa, à explicação.
Vamos a isto!
É verdade, Pedro, desde o tempo das cavernas que os homens se matam uns aos outros.
É verdade, Pedro, isso está na genética.
Não é verdade, Pedro, que não se pode fazer nada contra isso. Não quero deixar de te dizer isto porque
as coisas em que acreditamos, como eu costumo dizer nas aulas (nem é porque simplesmente o queira dizer, é porque o programa de Psicologia me obriga a dizer isso; e ainda bem que me obriga a fazê-lo, a mim e aos outros professores da disciplina),
influenciam a formação d
as nossas atitudes e d
as nossas opiniões;
e aquelas e estas determinam os nossos comportamentos. Portanto, se a gente acredita que "não há nada a fazer", tem tendência a formar opiniões e a tomar decisões num sentido. Se, pelo contrário, a gente acredita que "pode-se fazer alguma coisa", forma outras opiniões e toma outras decisões.
É verdade, Pedro, é legítimo acreditares na origem genética da agressividade humana (a que mata), os estudos sobre o desenvolvimento do cérebro humano mostram que a organização do nosso cérebro põe na base da sua própria
evolução, nos primeiros grupos de células nervosas que o compõem, a força da agressividade. Corresponde à era, na história do desenvolvimento da espécie humana, da lei do mais forte. Quem é mais forte, manda; quem manda, mata se e quando quiser. E pode-se acrescentar, mata friamente.
Isto que acabo de te dizer, Pedro, tem a ver com uma teoria que começou por ser "apenas" muito sedutora no estudo da evolução do cérebro e dos comportamentos dos animais, especialmente do Homem, e que agora, para além da sedução, vem acumulando evidência científica. É a teoria do
cérebro triuno de Paul MacLean. Hoje em dia é fácil encontrar na Internet sítios de divulgação desta teoria, que não é muito complicada. É a teoria do cérebro triuno que vai continuar a inspirar o que a seguir vou escrever; e que daqui a pouco associarei a um dos meus autores de eleição, como a generalidade dos meus alunos sabem, o austríaco pai da Etologia,
Konrad Lorenz.
Continuando, a evolução do nosso cérebro é marcada pelo surgimento de uma segunda camada de massa cerebral (repara, Pedro, vem pôr-se por cima, digamos, do cérebro "original", mas não o elimina ou modifica), camada essa que traz a novidade da experiência afetiva e emocional que ajuda à regulação dos comportamentos. Esta nova camada, partilhamo-la essencialmente com os outros mamíferos. Uma das novidades da experiência emocional é a preocupação com o Outro, não apenas o Outro que é igual a mim, mas também o que é diferente (as outras espécies, sejam elas mais humanas, sejam elas mais animais). Ora bem, um dos efeitos do advento da experiência afetiva e emocional acontece precisamente sobre a fria força agressiva, competindo com ela e inibindo-a; regulando-a.
Como vês, Pedro, o próprio organismo humano, a própria evolução da nossa espécie, faz surgir dentro de si, diretamente a partir da sua condição biológica, a reação ao determinismo da agressividade, quer dizer, o organismo, ele próprio, encarrega-se de
“fazer qualquer coisa contra isso”, sendo isso
“os homens matarem-se uns aos outros”, inteiramente presos da condição genética de que falas.
Konrad Lorenz, partindo de uma outra perspetiva do estudo do comportamento humano, diz que, no fundo, as
civilizações são as tentativas de resposta e reação dos grupos humanos ao determinismo da agressividade e do predomínio da lei do mais forte. Para isso, progressivamente, os grupos humanos organizaram rituais sociais e culturais que regulam as relações dos indivíduos nos grupos. Quando nós falamos nos rituais de passagem da adolescência, ora aí estão alguns exemplos daquilo que Konrad Lorenz fala. Não vou avançar por aqui (numa sala de aula certamente o faria, mas aqui, na Net, para já, tornaria a leitura deste texto fastidiosa), vou apenas dizer que, nos últimos anos da sua vida - Lorenz morreu em 1989 -, ele observava com telúrica tristeza o desmoronamento, o desaparecimento destes rituais, com o progressivo e imperial predomínio, nas sociedades humanas, dos valores economicistas e das motivações consumistas, cada vez mais egoístas e individualizadas.
Mas falta ainda uma camada no cérebro de MacLean. É a camada que corresponde, fisiologicamente, em linhas gerais, ao
córtex cerebral, que é o “véu” que cobre todo o cérebro. Nesta última camada veio instalar-se a inteligência, a capacidade de pensar e de discernir; o sentido estético; e a sabedoria.
É o conjunto destas capacidades que nos permite, por exemplo, depois de termos visto esta madrugada a equipa de futebol portuguesa perder com a seleção do Brasil, na final do campeonato mundial de sub-20, dizermos: “Parabéns ao Brasil!”, quando estamos cheios de pena (cérebro emocional, a segunda camada de cérebro) de não termos visto os nossos jogadores ganharem o jogo; ou quando estamos cheios de raiva (cérebro agressivo, a primeira camada de cérebro) por aqueles “fedelhos” da equipa adversária terem vencido os nossos jogadores, os jogadores da nossa equipa.
Ao lado da tristeza (e / ou da raiva) de não vermos a equipa portuguesa ganhar a final de futebol, temos qualquer coisa que nos diz se o jogo foi bom ou não; que nos diz se o resultado é justo ou não; que nos diz se o jogo foi bonito ou não. Tudo isto são apreciações e julgamentos produzidos a partir da nossa última camada de cérebro.
Konrad Lorenz dizia:
“Aparentemente, tanto a beleza do mundo cultural como a beleza do mundo natural são essenciais para manter o Homem espiritualmente são”. Quer dizer, a espécie humana tem "critérios de satisfação" que não são apenas de vencer ou ser vencido, de dominar ou não dominar o Outro.
Já agora, não te esqueças, Pedro: no fundo o jogo de futebol é exemplo de uma organização ritual de comportamentos humanos onde, com a presença de um árbitro, grupos “rivais” lutam, competem por uma coisa de que uns se aproprim à custa dos outros (a vitória, os pontos), mas sempre procurando regular a agressividade! É o tal
“fair play”, entre os jogadores e os clubes.
Estás a ver, Pedro, porque é que a reação do pai que encontrou o seu filho morto pode ser considerado um hino ao fascinante desenvolvimento do cérebro e da espécie humana? Seguramente ele sentiu raiva; seguramente ele quis vingar a morte do filho (primeira camada do cérebro); seguramente ele sofreu o maior sofrimento do mundo que é a perda, fora de tempo, de um filho (segunda camada do cérebro); mas teve, na hora, a sabedoria para perceber o que estava em causa e o que poderiam ser as trágicas consequências para tantos iguais a ele, para tantos iguais ao filho querido e amado (terceira camada do cérebro).
Pedro, tens razão em tudo o que dizes, mas – por favor! – nunca mais digas que não há nada a fazer. Somos o raio de um bicho que tem deus e o diabo no corpo! Sejamos sempre capazes de fazer jus ao maravilhoso desenvolvimento humano, ao nosso desenvolvimento enquanto espécie (magnífica, fascinante... diabólica)!
Um grande abraço, Pedro, de muito amizade e carinho!